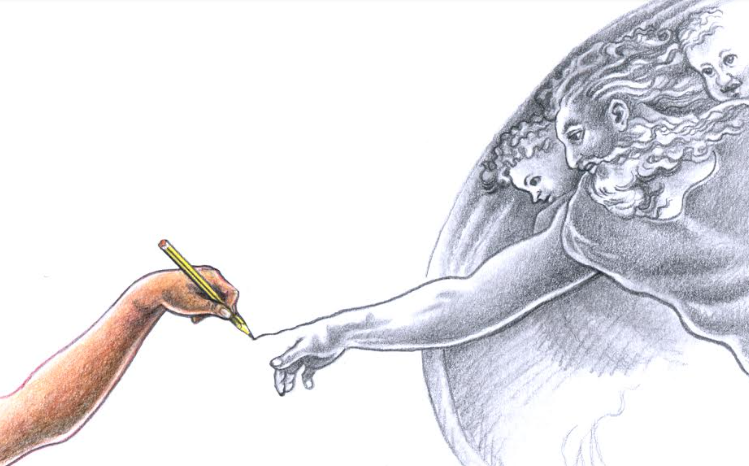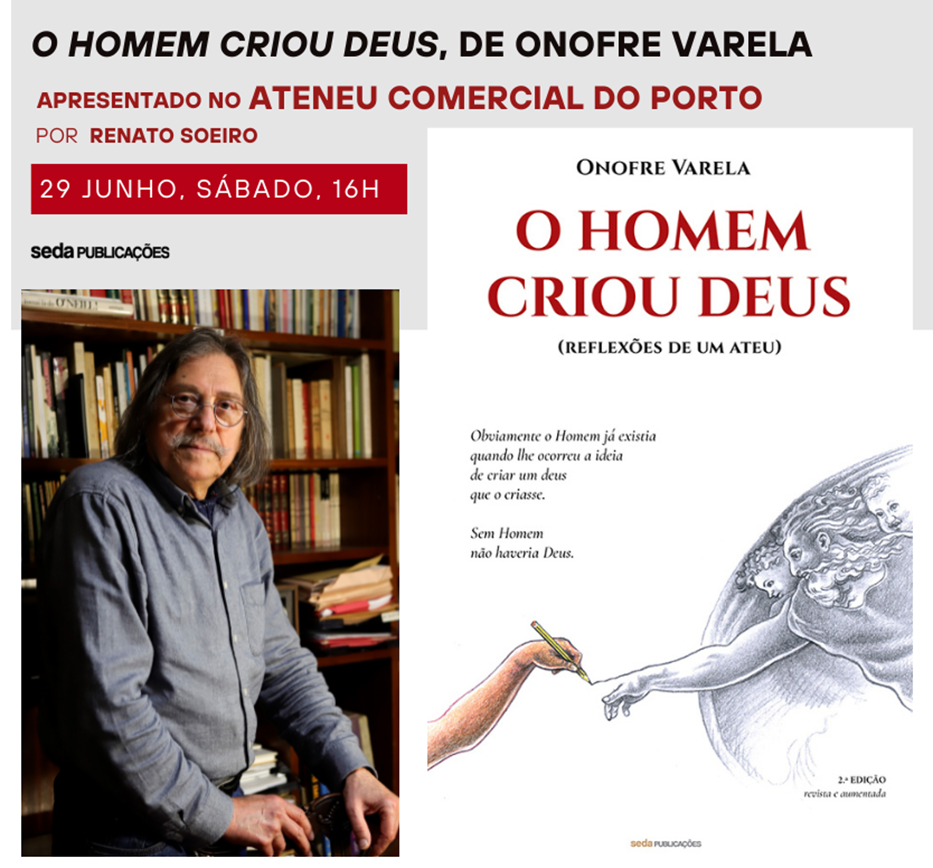3 de Novembro, 2024 Onofre Varela
Halloween, o dia das Bruxas
As pessoas da minha idade que celebram o dia 1 de Novembro, atribuem à data duas recordações, sendo uma histórica e outra religiosa: a primeira, é o dia do terramoto que destruiu Lisboa no ano de 1755, e a outra é o “dia de todos os santos”, no qual a tradição manda lembrar os mortos da família numa romagem de saudade ao cemitério onde estão sepultados, dando uma ajuda ao negócio das flores que nesse dia triplicam ou quadruplicam o preço, de acordo com a regra económico-capitalista “da oferta e da procura”.
A estes dois eventos soma-se mais um que não era atendido na cultura portuguesa do meu meio social no tempo da minha meninice e primeira juventude, tendo sido importado de países ocidentais anglófonos. Refiro-me ao “Halloween”.
Celebrado na noite de 31 de Outubro para 1 de Novembro, o Halloween é uma festa americana das crianças que escolhem guarda-roupa de fantasia fantasmagórica para, assim trajadas, baterem à porta de vizinhos, amigos e familiares, pedindo guloseimas (gostosuras) e fazendo travessuras se não forem atendidas.
A origem desta tradição, que pede uma decoração das casas usando abóboras-lanterna, o acender de fogueiras e o contar histórias de assombração, pode ser encontrada em rituais celtas ligados ao fim do Verão e às colheitas agrícolas, e remonta ao século XVIII nos territórios pagãos da Irlanda e da Escócia, cujos rituais foram exportados para o território norte-americano pelos colonos imigrantes que se fixaram na terra dos “peles-vermelhas” (que são os históricos, legítimos e verdadeiros donos daquelas paragens geográficas).

Mas a história do Halloween tem uma origem mais alongada no tempo se lhe juntarmos as tradições semelhantes dos povos celtas que habitaram a Gália (França) entre os anos 600 aC e 800 dC. A par do folclore, misto de religioso e pagão, há uma história bem mais dramática ligada à data do “Dia das Bruxas”. Isto dito assim até parece comédia ligeira e faz sorrir… mas vivido no seu tempo constituiu intenso drama sentido pelas mulheres perseguidas por superstição, estupidez e vingança torpe.
Numa sociedade dirigida por homens, tradicionalmente as mulheres nunca foram consideradas na exacta medida da igualdade que naturalmente têm perante os homens. Remetidas para uma escala menor, as mulheres ainda hoje (na nossa sociedade ocidental considerada tão “avançada”), auferem vencimento inferior aos homens que executam a mesma tarefa. (“Desigualdade salarial entre homens e mulheres voltou a aumentar”. Notícia de 9 de Julho de 2024, no jornal Público).
Tempos houve em que qualquer mulher que fugisse do padrão comportamental estabelecido pelos machos da sociedade, passava a ser considerada “bruxa” e, como tal, era perseguida, insultada, presa, torturada e morta violentamente, incluindo ser queimada viva.
Para que uma mulher fosse considerada bruxa bastava que ela mostrasse ser mais inteligente do que os homens que lhe eram próximos. Mulheres que exerciam actividades sociais de relevo, como prestar ajuda a parturientes e preparar medicamentos tradicionais, como hoje se encontram nas ervanárias, podiam ser designadas como bruxas por terem conhecimentos importantes para a época… e no extremo seriam perseguidas pelo complexo de inferioridade dos homens que, na convicção de mostrarem a sua “grandeza enquanto machos”, só sublinhavam a sua extrema pequenez perante as mulheres.
A sociedade machista não tinha estereotipado tais características para as mulheres… por isso, qualquer uma que saísse do padrão subserviente e temente ao homem, estava sujeita à perseguição porque, acreditavam eles, ela “teria feito um pacto com o diabo”. A partir daí podia ser humilhada, torturada e morta.
Na verdade o que acontecia tinha uma razão mais evidente e igualmente triste: a sociedade machista via nessas mulheres uma “ameaça à dominação masculina”, cujo sentimento de prepotência remonta à tradição judaico-cristã de o homem dominar a mulher, não permitindo que ela tenha vida própria para além daquilo que ele estipula “ser legal” para ela, tal como ainda hoje se observa na tradição religiosa de países islâmicos extremistas… e também em algumas famílias portuguesas… já agora!
(Por preguiça de aprender novas regras, o autor não obedece ao último Acordo Ortográfico. Basta-lhe o Português que lhe foi ensinado na Escola Primária por professores altamente qualificados)