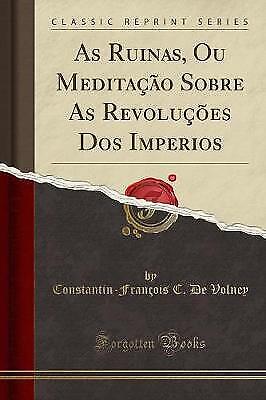31 de Janeiro, 2024 João Monteiro
Pedir perdão
Em 2016 o presidente dos EUA, Barack Obama, visitou Hiroshima. Foi a primeira visita de um presidente norte-americano ao Japão depois da Segunda Grande Guerra (durante a qual, em 6 de Agosto de 1945, os EUA lançaram uma bomba atómica sobre Hiroshima destruindo a cidade e matando, instantâneamente, mais de 70.000 pessoas. Destruição atómica que se repetiu dias depois, em Nagasaki, causando mais de 60.000 mortos).
Estranhou-se que Obama não pedisse desculpa pelo facto de os EUA terem enlutado o Japão. Perguntado pelos jornalistas se pedia perdão ao Japão, Barack Obama respondeu que o objectivo daquela sua visita era “honrar todos os que morreram na Segunda Grande Guerra Mundial”.
Era aqui que eu queria chegar para dizer que pedir perdão por actos cometidos no percurso da História, se pode parecer um acto de contrição com alguma positividade pelo arrependimento demonstrado, já não me parece ter cabimento quando não passa de “uma acção puramente teatral”… e, no caso, também sem ressarcir o Japão pelos actos cometidos há mais de 70 anos… o que seria mais do que “teatro”… seria “fita”!
Também seria um pedido hipócrita, já que os actos bélicos dos EUA continuaram a ser praticados provocando sofrimento nas populações, como a História regista!
Os pedidos de perdão não eliminam os males provocados. O que é preciso é que aprendamos com a História e tenhamos inteligência e sensibilidade suficientes para não repetirmos tantos erros através do percurso que fazemos pelo mundo, escrevendo uma História da Humanidade nada dignificante.
Também a Igreja Católica, no seu Jubileu do ano 2000, pela voz do Papa João Paulo II, dirigiu dezenas de pedidos de perdão (a Deus!… Não à memória dos ofendidos!) dos quais destacarei uns poucos, respigados da imprensa da época: “pelos males provocados pela Igreja aos Judeus por parte do Papa Pio XII; pelo anti-semitismo no tempo de Mussolini; por todos os crimes cometidos pela Inquisição; por todas as vítimas abandonadas pela Igreja; pelos actos praticados pelo Vaticano contra os cientistas; por queimar vivos Giordano Bruno e João Hus; pelas divisões no seio das várias sensibilidades cristãs; pelas repressões aos Protestantes e Ortodoxos; pelos pecados cometidos contra o amor, a paz e os direitos dos povos, e pelos pecados cometidos com as mulheres, os pobres e os marginalizados; e, até, pela inoperância da Igreja perante o Ateísmo” (!).
A Igreja Espanhola pediu perdão pela atitude nada evangélica demonstrada perante os elementos da ETA, e a Igreja da Argentina pediu perdão pelos pecados por ela cometidos durante a ditadura do general Videla. (Curiosamente a Igreja Católica Portuguesa não pediu perdão algum!… Nem, sequer, pelo mal que fez ao poeta Bocage).
Desde o início de 2000 até Junho de 2001, contabilizei 94 pedidos de perdão. E numa cerimónia litúrgica celebrada no Vaticano, o Papa pediu perdão pela soma de todos os pecados.
Pedidos de perdão que me parecem patéticos!
A Igreja, que se considera modelo moral, não devia tê-los cometido… mas cometeu-os! São factos históricos que o perdão panfletário não elimina.
O importante é termos consciência do mal cometido e emendarmos procedimentos para que não tornemos a cometê-los.
Se assim se fizer, jamais haverá necessidade de se pedir perdão, vivendo-se em paz e de consciência tranquila.
(O autor não obedece ao último Acordo Ortográfico)
OV