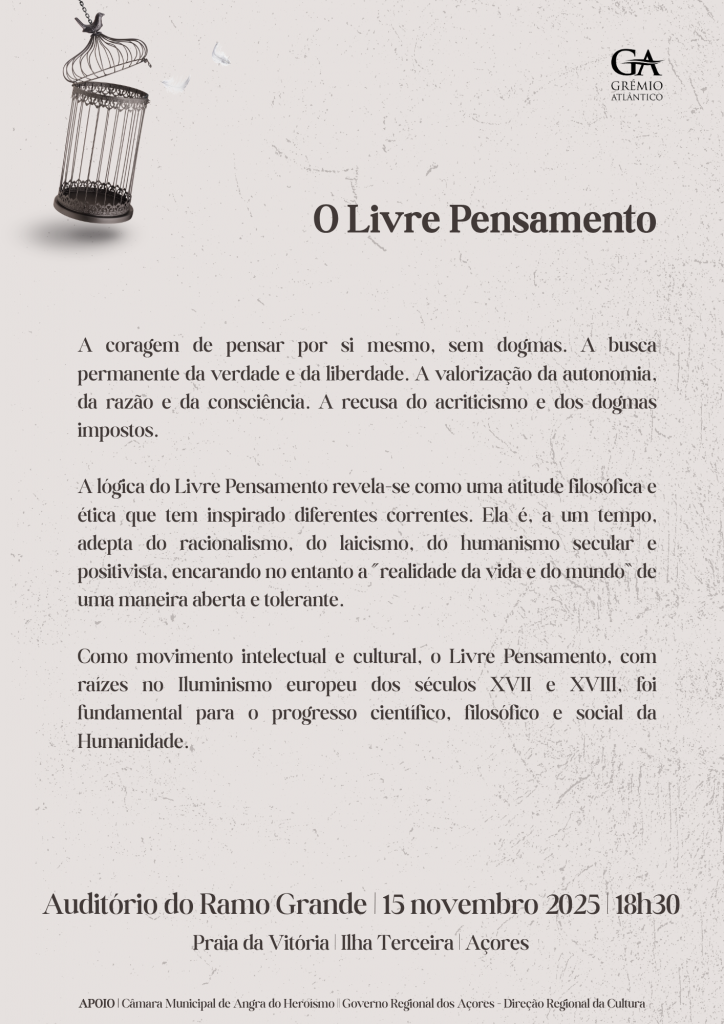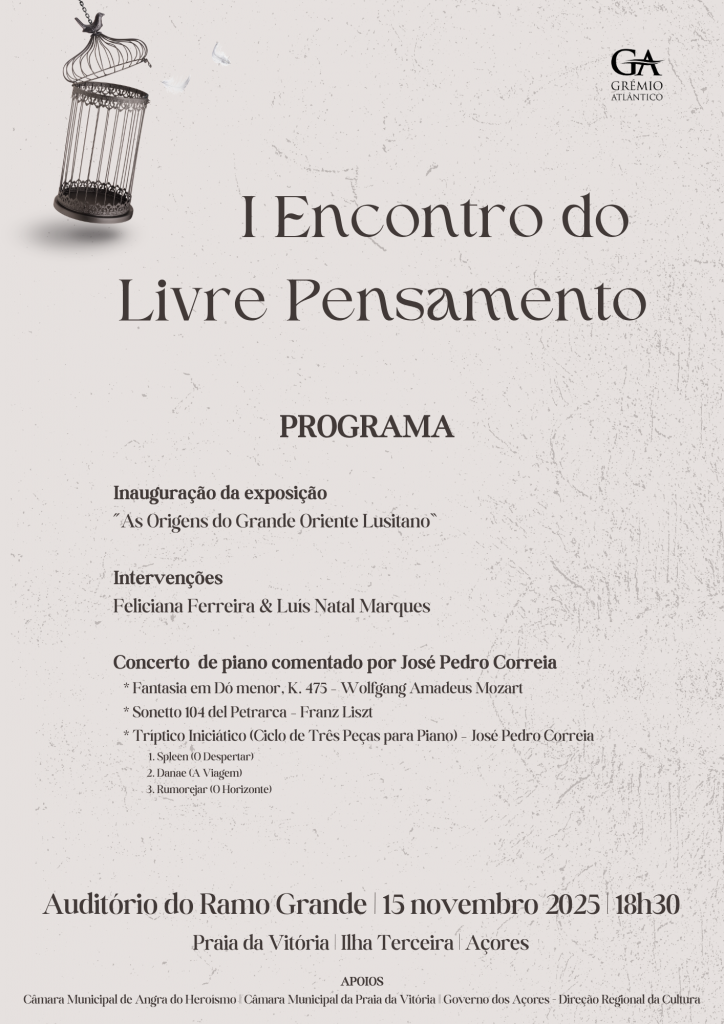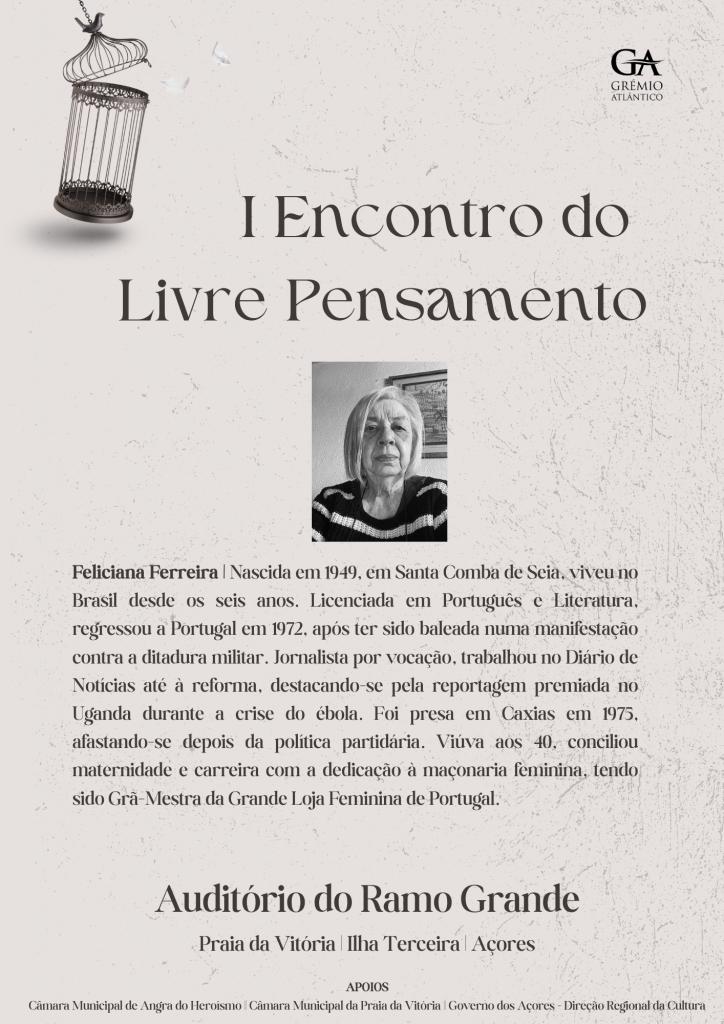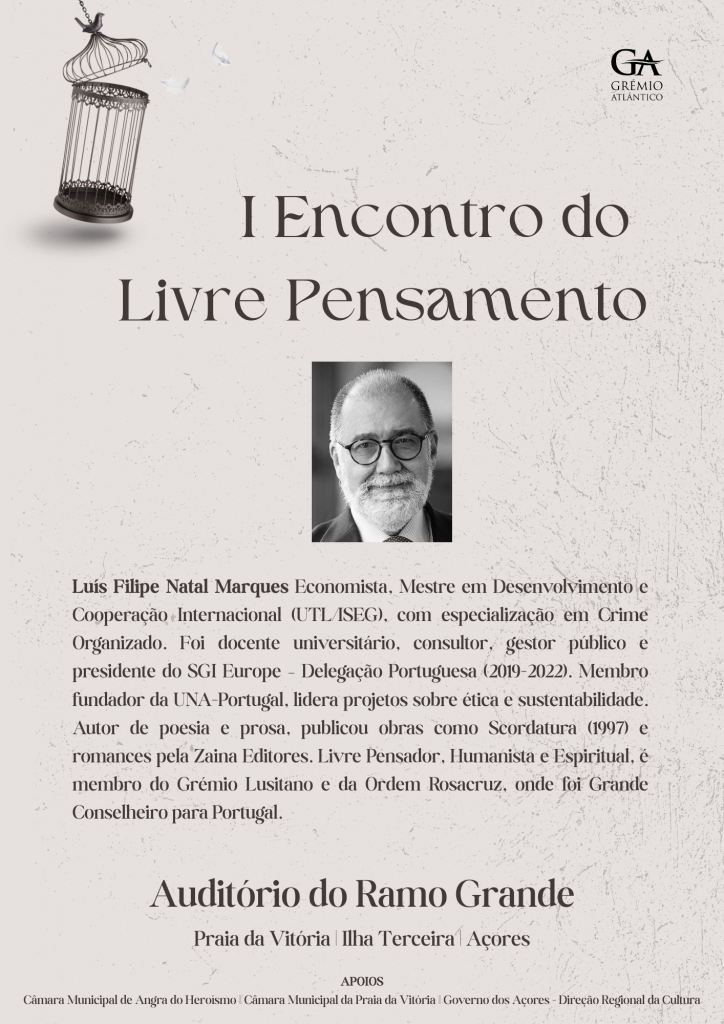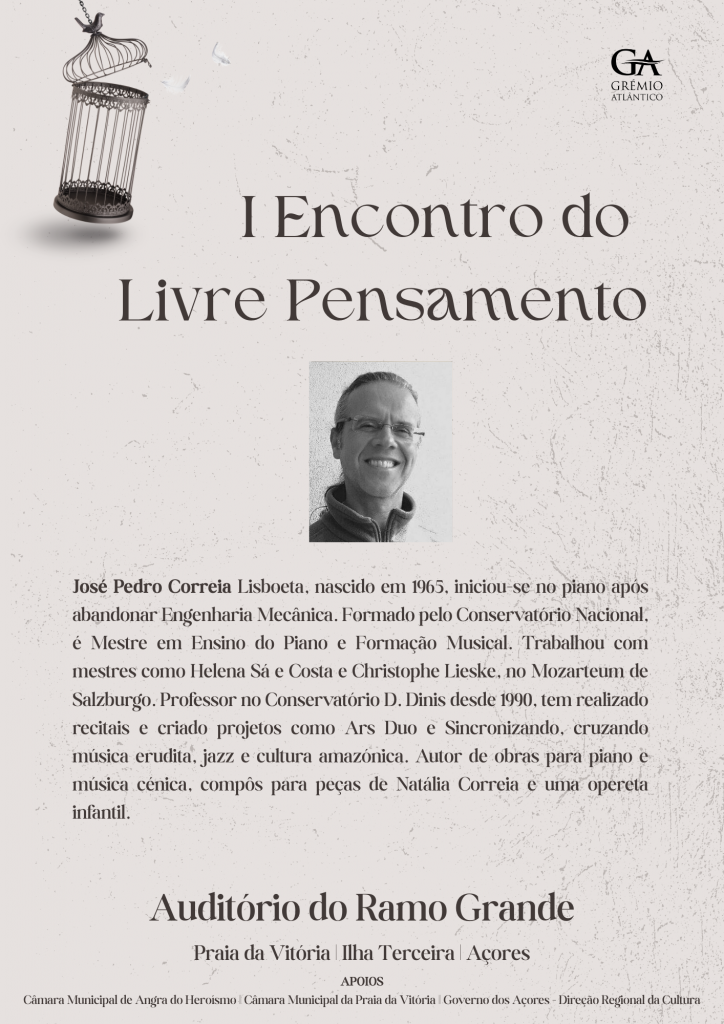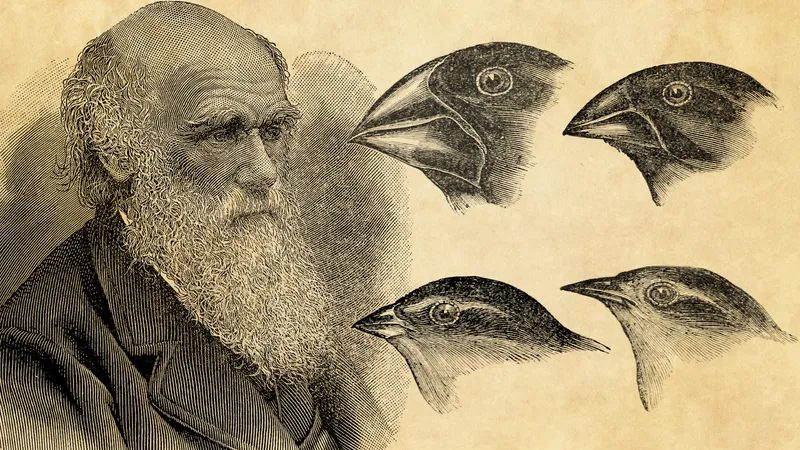1 de Janeiro, 2026 Eva Monteiro
Mártir
– Preciso de ir para o inferno – Eufémia sussurrou, quase a encostar os lábios à dobra luminosa onde supunha estar o ouvido do anjo. A ausência de sombras impedia o discernimento de distâncias, num local onde nem o som se propagava. Ainda assim não conseguia elevar a voz.
Hadraniel não se moveu. De asas abertas, mantinha uma imobilidade sólida que se estendia ao ar que o rodeava.
– Não te entendo – disse, sem qualquer censura. – Estás onde deves estar.
Ao fundo, tocava uma harpa incorpórea. Não era alta, nem agressiva. Era perfeita. A melodia repetia-se com variações mínimas, apenas as suficientes para parecer sempre nova mas nunca diferente. Eufémia tentou contar quantas vezes já a tinha ouvido, desistiu, e sentiu o mesmo cansaço de sempre assolar-lhe o corpo, se é que se podia chamar corpo àquilo.
Inspirou fundo. Desde que ali chegara, o ar estivera sempre carregado de doçura: flores que não murchavam, mel que nunca fermentava. Um perfume constante, sem falhas, sem descanso. Abriu os olhos e fechou-os de novo, numa tentativa inútil de escapar ao brilho dourado que se infiltrava em tudo, inclusive por trás das pálpebras.
– Eu não consigo ficar aqui – disse. – Não há aqui nada.
– Nada? – Hadraniel inclinou ligeiramente a cabeça. O gesto era estranho, parecia ensaiado. – Aqui está tudo.
Eufémia quis ajoelhar-se.
O impulso surgiu-lhe inteiro, intacto, aprendido em vida. O corpo iniciou o gesto de forma mecânica, dobrando-se à espera do impacto, do próprio peso a ceder, da pressão nas articulações. Nada. Não houve contacto, nem resistência, nem aquele momento instável em que o ouvido ajusta o equilíbrio.
Forçou o movimento. Inclinou-se mais, empurrando o corpo perfeito para a frente, à procura de um limite que se impusesse. A posição não se alterou. Estar de pé ou de joelhos exigia a mesma ausência de esforço. A perfeição não oferecia fricção.
Endireitou-se bruscamente e deixou-se cair.
Era um gesto calculado e simples. Esperava, pelo menos, a humilhação do fracasso e o eco vazio da tentativa. O movimento dissolveu-se antes de se completar. O conceito de queda parecia incompatível com aquela existência.
O ar não reagiu. Não se deslocou. Não acolheu nem rejeitou o gesto. Eufémia ergueu as mãos ao espaço à sua frente, abrindo e fechando os dedos, à procura de atrito. Nada. Nem frio, nem calor. Uma neutralidade absoluta, colada à pele que já não sentia como sua.
Inspirou fundo e reteve o ar nos pulmões.
Em vida, aquele gesto ter-lhe-ia feito arder o peito com urgência, uma sensação familiar de aflição seguida de um espasmo inevitável. Agora, a reação física estava ausente. Soltou o ar apenas porque sabia que era assim que o gesto devia terminar.
Apertou as mãos uma na outra de forma deliberada. Esperou pela dor, atenta ao formigueiro familiar ou um qualquer sinal de limite. Não doeu. Apertar ou relaxar era indiferente.
– Preciso de sentir alguma coisa – disse, baixo.
– Aqui não há dor – respondeu o anjo. – Não é necessária.
Eufémia soltou uma gargalhada curta e seca, que morreu no espaço sem eco.
– Era – disse. – Para mim, era.
Começou a mover-se. Era estranho caminhar sem produzir passos. Não havia ritmo, nem cadência. Avançar não aproximava nada. Parar não a afastava. Cada tentativa confirmava apenas que não pode haver movimento sem oposição.
Parou.
A sensação de cansaço não lhe largava o corpo perfeito, talvez não como fadiga física, mas como memória de exaustão. Olhou em volta. O branco estendia-se em todas as direções, saturado de reflexos dourados que não indicavam caminho nenhum. Não havia portas, nem margens, nem fissuras.
– Se não posso cair – disse -, se não posso ajoelhar-me, se não posso cansar-me… não estou aqui.
O anjo demorou a responder.
– Estás.
A palavra não corrigiu nada. Encerrou a possibilidade de réplica. Eufémia fechou os olhos. Pela primeira vez desde que ali chegara, desejou simplesmente estilhaçar, já que não lhe era permitido desaparecer. Queria transmutar-se, reconhecer-se em qualquer coisa de imperfeito, mutável, ainda que falhado.
Piscou os olhos com fúria. Tudo permanecia imutável, dourado e perfeito. Sem prestar atenção ao corpo que não reconhecia, deixou-se levar à memória do tempo em que era físico e em constante mutação. Ao procurar sentir os próprios olhos, notou apenas que não produziam lágrimas para espelhar o desamparo.
– Não sei por que estou aqui, anjo. A minha vida não foi tão pia quanto aparenta. O Pai não sabe? – Podia tê-lo dito com maior malícia, se o seu rosto não fosse tão perfeito que não permitisse um esgar.
– O Pai sabe tudo; estás onde deves estar.
– Quando me torturaram, quando me espancaram, quando me violaram, eu não cedi. Nunca renunciei ao Pai. De cada vez que me maltratavam o corpo eu sentia orgulho, não sentia o amor d’Ele. Sentia poder no desafio de me manter dissidente perante quem me queria quebrar. Nunca foi por fé. Não entendes? Eu não pertenço aqui.
Eufémia fechou os olhos com força, numa tentativa vã de recuperar alguma coisa do peso antigo. Em vida, aquele gesto precedia sempre a decisão. Ao fazê-lo, havia de aceitar mais uma humilhação, mais um golpe, mais uma prova.
– Eu queria aquilo – disse por fim. A voz saiu-lhe firme, desafiante. – Não o céu. A dor. Nunca quis nada disto.
Hadraniel fitou-a, com a imobilidade de sempre.
– Quando me batiam, quando me deixavam sem forças, quando me tomavam o corpo com toda a crueldade que a mente humana consegue imaginar, eu sentia-me maior do que eles. – Abriu os olhos, fixando o vazio dourado à sua frente. – Não era amor. Era orgulho. Eu tinha a certeza de que não me conseguiam quebrar.
Em vida, aquelas palavras ter-lhe-iam custado dizer. Por hábito, fez uma pausa curta. Não precisava de respirar mas o hábito permitia sentir se o anjo mudava de posição ou transparecia algum sentimento.
– Eu queria ser como Ele. – disse sem hesitação. – Detestava os santos que rezavam em silêncio, mas almejava ser como o Filho na cruz. A sangrar, exposto à dor, humilhado pelos homens. Queria que o meu corpo fosse prova. Que a morte fosse a confirmação inequívoca de que tinha sido mais digna do que qualquer outro mártir antes de mim.
Hadraniel ouviu-a com a mesma atenção serena que lhe havia dedicado desde que ali chegara. Não havia aprovação, nem reprovação.
– Eu queria morrer – continuou Eufémia. – Não acreditava verdadeiramente na promessa, mas a morte parecia-me o auge. O fim justo para uma vida de sofrimento. – Um sorriso breve tentou formar-se-lhe no rosto, mas não encontrou lugar. – Morri convencida de que tinha vencido.
O silêncio que se seguiu não pesou. Nada ali pesava.
– Aqui – disse ela, mais baixo. – Não tenho um corpo que possa reconhecer como meu. Nem feridas. Nem mérito. Tudo o que fiz… tudo aquilo em que me tornei, está ausente.
Deu um passo em direção ao anjo, com esperança que fosse possível aproximar-se de alguma coisa.
– Se o Pai soubesse quem eu era, não me teria trazido para cá. Eu não fui boa. Fui apenas mais de tudo. Fui cruel comigo mesma e com os outros. Chamei fé ao desprezo pelo mundo, à recusa da dúvida, ao prazer secreto de me sentir eleita. – A voz tentou, em vão, tremer de frustração. – Isso não devia ser recompensado. Ou isto é um castigo?
Hadraniel respondeu sem alterar o tom retumbante e indiferente.
– O sofrimento foi suportado. A renúncia foi mantida. A morte confirmou a fidelidade.
– Mas não foi por amor – insistiu Eufémia. – Foi tudo vaidade.
– A motivação não altera o desfecho – disse o anjo. – Aqui não existe culpa.
As palavras nem sequer precisavam de ecoar.
Eufémia abriu a boca para protestar, para voltar a acusar-se, para encontrar uma falha maior, algo que obrigasse aquele lugar a rejeitá-la. Nada parecia pior do que revelar as suas motivações mais humanas. Sentia que nem sequer havia categoria para o pecado que queria confessar. Ira? Soberba?
Baixou o olhar. Pela primeira vez desde que morrera, sentiu-se verdadeiramente nua. Num corpo perfeito, só se havia despido de sentido.
Se o céu recusava a culpa, não havia redenção possível. Em vida não o teria confessado, teria visto o mundo como vil e a si mesma ombro a ombro com o deus a quem entregara tudo. Agora, perante a perfeição desta existência, tudo em vida lhe parecia mesquinho e inferior, num mundo tão ternamente imperfeito que teria merecido o seu amor.
– Então tudo o que fui morreu comigo – murmurou.
Hadraniel não respondeu.
Eufémia compreendeu, com uma clareza que a atravessou como uma lança romana, que nem a maldade lhe era permitida ali. Depois de todas as tentativas falhadas, o impulso extinguiu-se-lhe como um músculo atrofiado. Ao invés de resistir, o céu absorvia tudo. Não impunha limites, porque não permitia a existência de nada que os pudesse transpor.
A harpa angelical persistia. Já não a distinguia como som, era apenas o status quo, como o mel e as flores que cheirava continuamente. Não vinham de lugar nenhum, não se dirigiam a ninguém. Existiam como uma condição daquele espaço, tal como o brilho, tal como a ausência de sombra, tal como a certeza de que nada ali podia falhar.
Eufémia tentou recordar a última vez em que sentira medo verdadeiro. Havia o medo ritual, aprendido, invocado nos sermões e nas leituras piedosas, mas o que procurava recordar era o medo animal, que encolhe o corpo e tolda o raciocínio. A memória surgiu-lhe. Estava numa cela húmida e escura que cheirava a fezes e sangue, onde conseguia ouvir o som irregular da própria respiração e o grunhidos das ratazanas. Tentou agarrar-se à memória, deixar-se envolver na recordação. Sentiu-a escapar-lhe, corrigida em vez de apagada.
– Nem a memória me pertence – disse, sem elevação de voz, sem expectativa de resposta.
Hadraniel continuava ali. Os olhos pousados nela não indicavam atenção nem desatenção. Sem troca, o anjo tornava-se apenas parte do branco infinito, mais um raio de luz dourada que a acompanhava.
Eufémia concentrou-se no último gesto possível: desistir de querer. Em vida, desistir fora sempre impossível. Mesmo na exaustão extrema, mesmo quando o corpo implorava rendição, havia nela uma chama obstinada e arrogante, que a obrigava a continuar. Agora, tentava extingui-la deliberadamente.
Não funcionou.
Desistir, ali, não era queda. Era apenas a natural forma de estar. Nem sequer o abandono lhe era permitido enquanto gesto final. A vontade, anulada, tornava-se irrelevante. O céu não exigia participação porque lhe bastava a presença.
– Isto é a vitória – murmurou, mais como constatação do que como acusação. – Não é?
Hadraniel não respondeu, nem havia diálogo possível. O anjo não representava uma consciência com quem pudesse negociar. A sua função não era explicar, nem punir, nem consolar. Era garantir que aquilo que chegava ali nunca mais saía.
Eufémia sentiu por fim a maior das derrotas ontológicas. O cansaço de existir sem consequência. De pensar sem consequência. De ser sem possibilidade de erro. Da inevitável imutabilidade.
– Se não posso errar – disse -, não posso escolher. E se não posso escolher… não posso ser.
A harpa manteve-se inalterada. Repetiu a variação mínima que prometia novidade mas que no fundo representava apenas continuidade.
Durante um instante, tão breve que Eufémia quase o descartou como ilusão, o brilho à sua frente hesitou. Desviou-se, como se se tivesse deparado com algo que não sabia como tocar. Não havia fissura visível, nem porta, nem sombra. Mas a certeza absoluta sofrera uma imperfeição microscópica.
Hadraniel inclinou a cabeça. O gesto foi mínimo, funcional, isento de significado humano. Ainda assim, aconteceu.
– Vais permanecer aqui – disse, finalmente. Não era uma ameaça. A frase era apenas uma descrição.
Eufémia não respondeu. Já não havia palavras que pudessem produzir efeito. O céu tinha vencido de forma total. Onde na violência não podia acontecer, era a impossibilidade de conflito que a fazia, finalmente, render-se. Não lhe restava sequer a dignidade da insurreição.
Deixou de ter noção se tinha os olhos abertos ou fechados, já não fazia diferença. Se o inferno existia, não estava ao seu alcance. E se alguma vez lhe fosse possível alcançá-lo, não seria por força, nem por fé, nem por vontade.
A escolha não lhe pertencia. E o som da harpa continuou a assaltar-lhe os ouvidos perfeitos.
***
Não havia tempo no céu, mas havia registos. A ausência foi anotada antes sequer de ser compreendida.
Hadraniel manteve-se no ponto exato onde Eufémia existira pela última vez. O espaço continuava pleno, intacto, saturado de luz e harmonia. Nada indicava qualquer falha. Nada, exceto o facto de já não haver ali uma presença a sustentar.
– Alma permanente – declarou, não para alguém em particular, mas para o próprio sistema que o constituía. – Estado: íntegro. Continuidade: garantida.
A afirmação não produziu efeito.
A música celestial manteve-se. A harpa executou a variação mínima seguinte. O branco não se alterou, a luz dourada não voltou a hesitar. Ainda assim, algo não coincidia com o enunciado. A permanência exigia ocupação. E ali, naquele ponto exato, havia apenas plenitude vazia.
Hadraniel recalculou. Não tinha a capacidade de produzir dúvida, porque esta não fazia parte da sua função, mas havia um procedimento. O céu não previa evasão. A categoria não existia. As almas não saíam. Permaneciam, dissolvidas na perfeição, sem fricção, nem resíduo.
– Não presente – acrescentou, após um intervalo que não correspondia a hesitação.
O registo aceitou a informação sem reação. A luz intensificou-se, como consequência automática da invocação superior. Não havia deslocamento na presença do Pai, em vez de movimento, a transcendência trazia saturação. Tudo ficou cheio de tudo.
– Uma alma atribuída à glória não permanece – declarou Hadraniel, agora dirigido ao absoluto. A constatação não carregava nenhum tipo de acusação.
Seguiu-se um silêncio que traía apenas a suspensão de relação. O Pai preenchia tudo. A totalidade não precisava de se explicar.
– Alma à glória – constatou o anjo. – Renúncia mantida. Ausência.
A luz da totalidade não se alterou.
Durante um instante impercetível, houve um ajuste falhado. Não no espaço, mas na lógica que o sustentava. Uma correção automática, como se o céu procurasse uma forma de incluir a exceção sem a reconhecer como alteração à sua intrínseca imutabilidade.
– A alma não rejeitou a glória. – acrescentou Hadraniel. – Cessou.
A palavra não era exata. Mas era a mais próxima disponível.
O Pai permaneceu.
Não havia ali um termo para perda. O céu não concebia fuga. Aquilo que não permanecia não podia, por definição, ter lá estado.
– Anomalia registada – disse o anjo, finalmente.
A luz começou a rarefazer-se até ao nível habitual. A harpa retomou o ciclo desde o início, sem memória da interrupção que nunca acontecera. Hadraniel permaneceu no lugar designado. A sua função não era procurar, muito menos compreender. Limitava-se garantir a estabilidade daquilo que existia.
Ainda assim, no ponto onde nada faltava, a totalidade demorou mais do que o expectável a fechar-se sobre si mesma. Se uma alma podia desaparecer sem oposição, não era o inferno que a reclamava. O céu é que não acolhia a sua existência.